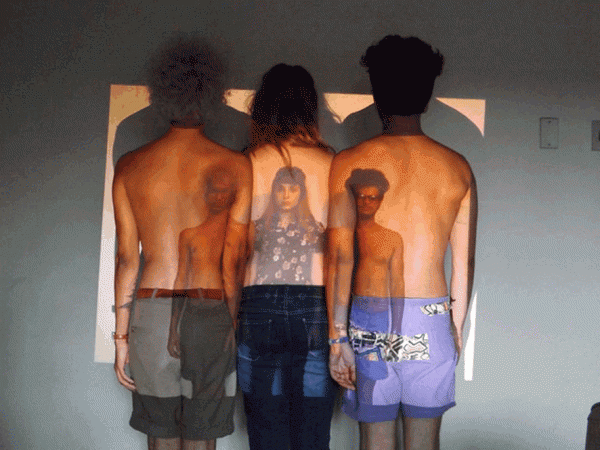Inconsciente E Família
SÉRGIO LAIA
A família se configura como um tema de fundamental interesse para a sociedade contemporânea e, consequentemente, para a clínica psicanalítica. Em que sentido as profundas transformações que essa instituição tem sofrido, acarretam consequências na transmissão de uma constituição subjetiva?
A referência à “transmissão… de uma constituição subjetiva”, como sabemos, pode ser encontrada no segundo parágrafo da célebre “Nota sobre a criança”, escrita por Jacques Lacan[1]. Esse parágrafo, por sua vez, se conclui dizendo que tal transmissão implica “a relação com um desejo que não seja anônimo”[2]. Já nessa conclusão desse segundo parágrafo, temos elementos para responder à questão sobre as transformações da família e suas consequências na sociedade contemporânea. Afinal, vivemos em um mundo onde os nomes proliferam, por exemplo, na designação de orientações ou mesmo identidades sexuais, de transtornos mentais, de modos de composição familiar, de marcas de produtos de consumo, etc. Entretanto, será que essa proliferação ou, retomando outra expressão que Lacan utilizou em “A subversão do sujeito e suas relações com o inconsciente freudiano”, esse “mar dos nomes próprios”[3], efetivamente deixa espaço para um desejo não-anônimo? Se tomarmos como referência para responder a essa questão um clássico da sociologia como Durkheim[4], diríamos que não, porque esse sociólogo articula o aparecimento da então sociedade industrial com o desvanecimento da “família patriarcal”, o surgimento da “família conjugal” e a intensificação da “anomia”, ou seja, do anonimato. Porém, o ensino de Lacan nos abre outra via. Para tematizá-la, me sirvo também do escrito lacaniano sobre a subversão do sujeito, produzido no início dessa década de 1960 que, sabemos, foi um marco das transformações familiares com o “amor livre”, o aumento dos “desquites” e dos “divórcios”, a “liberação feminina”, a disseminação do uso dos “anticoncepcionais”, etc. Segundo Lacan, um “ser aparece como que faltando no mar dos nomes próprios”[5] ou, em outras palavras, a proliferação dos nomes não apaga o que lhe falta: o inominável insiste, nesse “mar dos nomes próprios”, mas ele não deve ser confundido com o anônimo, pois se insurge entre os nomes próprios, “como que faltando”[6]. Mas que ser inominável é esse? A resposta de Lacan, nesse mesmo escrito de 1960, não é direta, mas articula tal ser a um lugar que ele chama de “Gozo… cuja falta tornaria vão o universo”[7]. Ora, não há dúvida de que as sociedades contemporâneas vivem sob a pressão de um gozo que sempre precisa dar mostras de sua existência e de sua efetividade, que não pode parar e cujo mínimo vacilo é vivido como um desmoronamento do universo ou, para retomar os termos de Lacan, um universo vão. Neste mundo do gozo a qualquer preço, a “transmissão de uma constituição subjetiva” não é necessariamente abolida, nem apagada. Ela me parece transmutada. Antes, ela tentava se valer de referenciais que evocavam uma unicidade: na transmissão de tipo patriarcal, tudo se remetia ao “nome de família”, à “referência paterna” (a “esposa de fulano”, o “filho de beltrano”…) ou, por oposição, também ao que esse nome e essa referência não conseguiam abarcar (a “adúltera”, a “prostituta”, o “bastardo”, o “desviado”…). No mundo contemporâneo, a constituição subjetiva se pluraliza: em vez de um referencial unitário, há muito mais uma “constelação” de referências, e evoco essa dimensão constelar me servindo de “Lituraterra”[8]. Porém, ao invés de simplesmente se entusiasmar ou ajudar a propagar essa proliferação de nomes, a psicanálise de orientação lacaniana nos leva muito mais a interessar pela falha que, nesse “mar dos nomes próprios”, não deixa de se reiterar, mesmo se o gozo que aí transborda nem sempre a faz ser escutada. A experiência analítica é uma espécie de amplificador dessa falha que, embora insistente no mundo contemporâneo, é cada vez mais inaudível em meio à proliferação dos nomes próprios. Através dessa experiência e do que ela amplifica, verificamos que a especificidade de cada constituição subjetiva, ou, para evocar um termo caro aos nossos dias, a “diferença”, virá muito mais dessa falha que da proliferação dos nomes próprios.
De que maneira as distintas funções que coexistem no grupo familiar e os laços sintomáticos que se efetuam são afetados por uma época do Outro que não existe?
Efetivamente, o que você chama de “distintas funções que coexistem no grupo familiar” são, para Lacan (e aqui retorno ao escrito “Nota sobre a criança”), apenas duas: a função do pai e a função da mãe. Sobretudo tendo em vista os debates atuais sobre as diferentes formas de se compor uma família, e que são diferentes especialmente frente ao chamado “modelo heteronormativo”, sublinho que, por estarem associados ao termo função, as palavras pai e mãe não correspondem respectivamente a homem e mulher anatomicamente falando. Como nossa época é também tomada pelo que se apresenta como performance, acho igualmente importante lembrar que, para Lacan, função não é sinônimo de “papel” ou “desempenho”: ele me parece extrair esse termo da matemática e, assim, função é o que, por exemplo, estabelece uma relação entre dois diferentes conjuntos, entre elementos heterogêneos. Assim, a função da mãe é tematizada por Lacan como aquela cujos “cuidados trazem a marca de um interesse particularizado, nem que seja por intermédio de suas próprias faltas”[9], ou seja, essa função relaciona, pelo viés dos cuidados, a criança (conjunto 1) e o que diz respeito à própria particularidade de quem dela cuida, ou seja, ao modo como a criança vem responder às “faltas” de quem ela recebe os cuidados, às formas como a mãe é parte interessada (conjunto 2) nos cuidados da criança. Nesse viés, os cuidados ditos maternos implicam interesses que extrapolam a maternidade. Por sua vez, a função do pai também relaciona elementos provenientes de distintos conjuntos, porque, segundo Lacan, “seu nome é o vetor de uma encarnação da Lei no desejo”[10] e, assim, temos, por um lado, numa espécie de conjunto B, os elementos, digamos, mais abstratos que são “nome”, “vetor”, “Lei” e, por outro lado, numa espécie de conjunto C, os elementos que eu chamaria de mais corporais e que são “encarnação” e “desejo”. Tanto na função da mãe, quanto na função do pai, reencontramos o que, na resposta à questão anterior, eu assinalei como o que falha na proliferação dos nomes próprios: se há um interesse particular da mãe ao cuidar da criança, cada mãe será muito diferente do que se idealiza ou padroniza como sendo “A Mãe” e estará em falta frente a todos os nomes próprios que procuram designar o que é ser mãe; por sua vez, um pai estará em falta com “O Pai” idealizado ou padronizado e com os nomes próprios que pretendem referenciar o que é ser pai, na medida em que a encarnação da Lei no desejo não comporta um padrão ou o que valeria para tudo e para todos. Nesse contexto, e retomando o final de sua questão, se nossa época está efetivamente marcada pela inexistência do Outro, isto é, desse lugar onde encontraríamos todos os significantes que procuram designar-nos, os nomes próprios proliferam como tentativas de serem referenciais. Assim, o Outro não existe, mas os mais diversos nomes próprios podem ser acessados, o que cada um deseja toma a dimensão de lei inexorável, as crianças se tornam objetos de cuidados como nunca antes se viu em nossa civilização. Entretanto, a experiência analítica ensina-nos que a imposição da lei do desejo não é efetivamente encarnar a lei no desejo, ou seja não é articular elementos distintos (lei e desejo); nesse mesmo viés, o afã contemporâneo de se tomar a criança como objeto inquestionável de cuidados muitas vezes desconsidera completamente as particularidades específicas de cada criança, assim como a diversidade sempre crescente dos nomes próprios não favorece necessariamente um saber sobre o que nos designa ou nomeia em nossas particularidades. Por conseguinte, neste mundo do Outro que não existe, os sintomas continuam proliferando, mesmo se já não se manifestam mais exatamente como chegavam, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, ao consultório de Freud.
Em cada época, cabe aos analistas interpretar e responder às conjunções de cada cultura, com uma posição ética e eficaz, considerando a psicanálise enquanto uma prática aplicada ao sofrimento humano. Nessa perspectiva, até que ponto a Orientação Lacaniana se configura como um vetor da prática psicanalítica em nossos dias?
Sem dúvida, a psicanálise de orientação lacaniana, ao poder amplificar e responder, sem calar ou suturar, a falha que insiste meio a todas as nomeações que proliferam em nossos dias, tem muito a fazer neste mundo e é uma ferramenta de grande efetividade. Porém, essa orientação nos exige conceber a psicanálise muito mais do que, nesta terceira pergunta, é evocado como “prática aplicada ao sofrimento humano”. Certamente, ela incide e se aplica a tal sofrimento, mas sua força está muito mais em nos permitir a nos interessar pelo que está além do que um Nietzsche chamou de “humano demasiadamente humano”. Por isso, de acordo com o que Jacques-Alain Miller diversas vezes ressaltou, Lacan vai preferir em falar de “experiência analítica”: a noção de experiência pode comportar inclusive o que extrapola as concepções do que é humano, mas sem que isso implique qualquer desumanização – ela nos convoca a estarmos atentos às invenções, a como cada um se vira frente ao que não lhe é “humano, demasiadamente humano” e que ao mesmo tempo lhe habita e transtorna.
Quanto à parte da sua pergunta que procura averiguar se a orientação lacaniana pode ser “um vetor da prática psicanalítica” hoje, considero que, embora estejamos em muitos lugares e muito além de nossos consultórios particulares, não é ainda possível sustentar que tal orientação seja um vetor da prática analítica. Como um exemplo, contemplando o tema “Inconsciente e família”, cito o livro Francisco Bosco, Orfeu de bicicleta: um pai no século XXI, publicado pela Editora Foz, do Rio de Janeiro, em 2015. Trata-se de um depoimento sobre como a paternidade se apresentou por duas vezes na vida desse autor e de como ele a vive de modo completamente diferente do que acontecia, em geral, aos pais de algumas décadas atrás. Já no início da Primeira Parte, por exemplo, poderemos ler uma frase que, recortada, soa bem lacaniana: “a paternidade é uma questão” (p. 17). Ao longo do livro, vemos Francisco Bosco, mesmo perpassado pela inexistência do Outro, tendo de se colocar como um Outro, por exemplo, para sua filha primogênita e seu filho caçula. Entretanto, quando ele busca a psicanálise para tematizar a questão que lhe toma o corpo especialmente com o nascimento de seus filhos, suas referências são Sigmund Freud, Donald Winnicott, Françoise Dolto, Contardo Caligaris e Maria Rita Khel. Embora, de algum modo, a referência a Lacan não deixa de estar presente em Dolto, Caligaris e Khel, não se trata propriamente ainda da orientação lacaniana e, quando li os diferentes (e bem contemporâneos) modos como Francisco Bosco é afetado e responde ao que ele mesmo chama de “impacto enorme” da paternidade em sua vida, diversas vezes me ocorreu o quanto a orientação lacaniana poderia contribuir para suas elaborações e seus impasses…
Na sua opinião quais as questões fundamentais deverão orientar a nossa reflexão sobre o tema: Inconsciente e família?
Acho que sobretudo suas duas primeiras questões e a última são guias excelentes para essa reflexão. Além delas, eu acrescentaria, a princípio, mais duas.
Uma, me ocorreu outro dia, quando relia “Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos” e me deparei com a seguinte consideração freudiana sobre uma das possibilidades de se sair do complexo de Édipo: “no caso normal – melhor dizendo: ideal – não subsiste mais um complexo de Édipo no inconsciente, o Super-eu é seu herdeiro”[11]. Parece-me que não é incomum, sobretudo em certos casos de adolescentes e jovens adultos que chegam hoje a nossos consultórios, nos depararmos com esse tipo de situação “ideal” aludida por Freud: eles não nos reportam propriamente o que o criador da psicanálise localizava como “conflitos edipianos”, a vida familiar que têm (mesmo com os problemas que ela comporta) é considerada por eles como absolutamente “normal” e, de fato, parece ser mesmo. Alguns sequer conseguem localizar exatamente o que lhes levam a procurar-nos, embora queiram analisar-se e são frequentes nas sessões. Mas, imerso nessa “normalidade”, não deixamos de encontrar a presença insidiosa do supereu. Nesse contexto, parece-me interessante explorar como, em casos assim, a não subsistência do complexo de Édipo no inconsciente poderia implicar a presença insidiosa do supereu que, no entanto, é herdeiro desse mesmo complexo. Em outros termos, se o complexo de Édipo não subsiste no inconsciente, tal “normalidade” seria tomada pelo supereu que alguns pós-freudianos preferiram qualificar de “pré-edípico” e que Lacan pôde destacar mais claramente nas psicoses? Eu não incluo, nas psicoses, os casos a que faço alusão aqui, mas me parece impressionante que, no mundo onde o Outro não existe, tudo tende a ser considerado “normal” e, nesse viés, poderíamos investigar se o supereu se imporia, então, como uma espécie de retorno no real de conflitos que, por não mais subsistirem no inconsciente, não se apresentam na realidade e, assim, fazem com que a realidade pareça normal embora, efetivamente, ela seja perturbada pela presença real do supereu.
Uma outra questão seria sobre o estatuto do falo hoje e de como Lacan, sobretudo no final de seu ensino, tematiza o falo. Por um lado, vivemos em um mundo que confere a todo tempo descrédito ao falo, sobretudo porque o toma como “patriarcal”, “heteronormativo”, bastião de um “binarismo” que desconsidera completamente a “diversidade sexual”. Por outro lado, no Seminário 23, Lacan aborda o falo como “falácia” que “testemunha” o real e como “único real que verifica o que quer que seja”[12]. Nessa abordagem, não encontraríamos meios para enfrentarmos o descrédito contemporâneo atribuído ao falo e até de – sem qualquer retorno ao chamado “falocentrismo” – irmos além dos impasses que tal descrédito não deixa de implicar?
Considerando-se o fenômeno do “domínio materno”, indicado por Miller como uma “expressão da feminização da nossa época”, qual a contribuição da psicanálise, tendo em vista as dificuldades das famílias contemporâneas para articular lei e desejo, no processo de transmissão de uma constituição subjetiva?
Vivemos em um mundo onde cada vez mais a fala tende a perder o lastro corporal (por exemplo nas “conversas” intermináveis por Whatsapp) e os corpos tendem a se mostrar como se pudessem desconectar-se da fala (por exemplo, na demanda imperativa “manda nudes!”). Antes, a função paterna procurava dar algum lugar à conjugação da fala e do corpo, mas que se demonstra hoje muitas vezes insustentável porque soa (ou mesmo efetivamente é) autoritária, centralista, pouco ou nada afeita às nuances do que lhe escapa e se apresenta como “feminino”. A meu ver, a psicanálise de orientação lacaniana apresenta-nos um uso inédito da conjugação da fala e do corpo porque esse uso implica ir “mais além do complexo de Édipo” e outro modo de “viver as pulsões”. Nesse contexto, ela tem muito a contribuir, inclusive para que descubramos, nas tramas da feminização do mundo, a reiteração, mesmo de modo transmutado, do domínio materno. Mas devemos também zelar para que essa contribuição não tome, como algumas vezes escuto (até mesmo entre nós, psicanalistas de orientação lacaniana) uma perspectiva messiânica e salvacionista. Afinal, o próprio Freud já nos ensinou que, sob a face sacrificial do filho salvador, o que insiste é o sacrifício do pai que torna o pai morto mais forte que o pai quando vivo. Logo, se a contribuição da psicanálise de orientação lacaniana tomar uma perspectiva messiânica e salvacionista, ela se fará em “Nome do Pai” e perderá seu ineditismo de conjugar corpo e fala e de dar um lugar ao feminino como uma exceção diversa do pai, da mãe e mesmo d’A mulher.
Respostas redigidas por Sérgio Laia
Psicanalista, Analista Membro da Escola (AME), pela Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e Membro da Associação Mundial de Psicanálise (AMP); Professor Titular IV do Mestrado de Estudos Culturais Contemporâneos e do Curso de Psicologia da Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura); Pesquisador com projeto aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo Programa de Pesquisa e Iniciação Científica (ProPIC) da Universidade FUMEC; Mestre em Filosofia e Doutor em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).