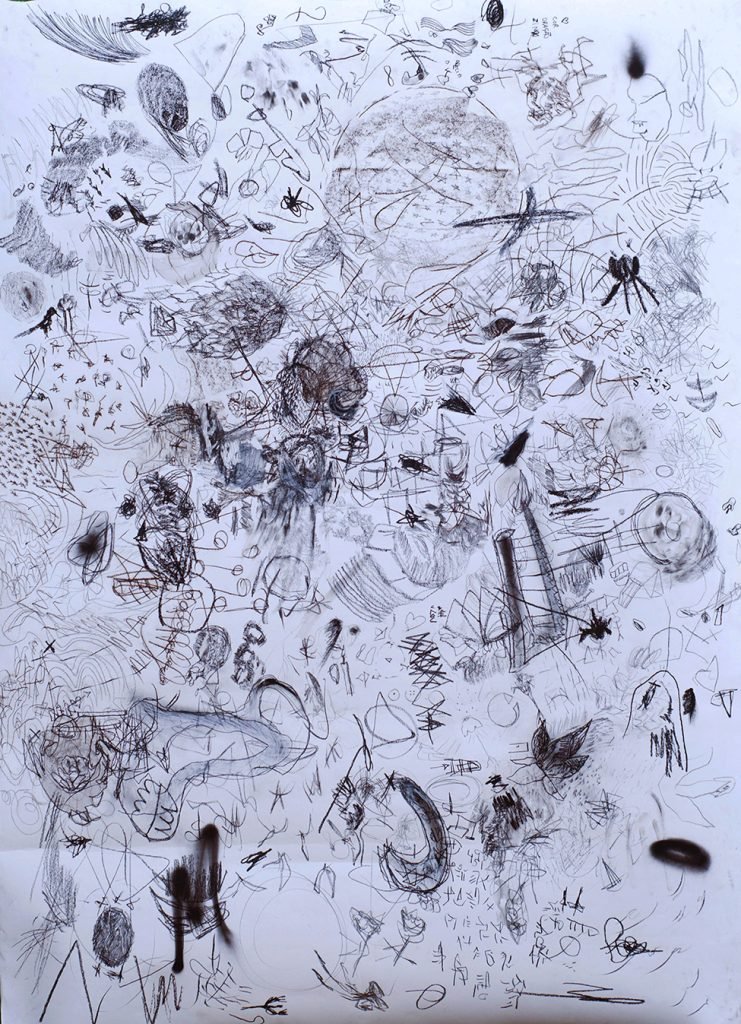Tem alguém aí?1
Esteban Pikiewicz
Psicanalista, membro da EOL/AMP
epikiewicz@yahoo.com.ar
Resumo: O autor percorre os textos de Freud e de Lacan buscando elucidar o que estaria implicado na expressão presença do analista”. Ele destaca a ideia inicialmente desenvolvida por Freud sobre o analista como objeto e retomada por Lacan quanto à função do “desejo do analista” e do analista enquanto semblante do objeto a causa de desejo, vinculando a sua presença ao próprio conceito de inconsciente. Porém, acrescenta o autor, trata-se de uma presença real e, nesse sentido, nos reenvia a Lacan para afirmar que há, nesse desejo, algo de impuro.
Palavras-chave: presença do analista; inconsciente; desejo do analista; objeto a; real.
IS ANYONE THERE?
Abstract: The author goes through Freud’s and Lacan’s texts seeking to elucidate what would be implied in the expression.: “presence of the analyst”. He highlights the idea initially developed by Freud about the analyst as object, which is revisited by Lacan regarding the function of the “analyst’s desire” and of the analyst making semblance as “objet a cause of desire”, linking its presence to the very concept of the unconscious. However, the author adds, it is a real presence and, in this sense, he sends us back to Lacan, to affirm that there is something impure in this desire.
Keywords: presence of the analyst; unconscious; analyst’s desire; objet petit a; real.
Do título e da presença do analista
O que vou propor é um desenvolvimento preliminar, uma aproximação ao que foi trabalhado neste seminário sobre a questão da presença e, em particular, da presença do analista. Vou me valer desse termo para tentar vinculá-lo ao título desta aula: Existe alguém aí? é o título do livro de um grande poeta argentino, Joaquín Giannuzzi (1999), publicado pouco antes de sua morte. O título assemelha-se a uma significação vazia, pois exprime o conjunto de poemas encontrados no livro e não há nenhum poema dentro dele que se intitule assim. O conjunto de poemas, pode-se dizer, circunscreve algo do objeto que é o livro, cujo nome é o nome próprio do autor. O estilo de Gianuzzi é o da ironia, ou humor ácido, o “falar” das coisas cotidianas, insignificantes; da morte, da incerteza, o que se costuma chamar de poesia objetivista.
Agora, a covid-19, como acontecimento, virou nosso cotidiano de cabeça para baixo e, portanto, nossa prática e nossa experiência. Isso acentua ainda mais a pergunta: tem alguém aí? A cada vez que se produz o contato entre nós por esses meios, ou também entre analista-analisando, há, de algum modo, uma preparação, algo prévio, que se reitera, uma espécie de constatação ligada a essa insistência introdutória nas perguntas “Você me escuta?”, “Eles me veem?”, como perguntas sobre esse alguém aí.
Presença: o dicionário diz que se trata da circunstância de estar ou de existir algo ou alguém em determinado lugar. Deriva do latim praesentia, que descreve esse termo como a qualidade de estar diante. Algo que me parece importante destacar é o que se refere à condição de algo físico, algo que tem uma corporeidade. No dicionário se esclarece que o termo está ligado aos traços de algo ou alguém. Não tanto ao que o senso comum menciona como a aparência, mas sim aos traços. Nessa pandemia, precisamente, em que predomina a coronalíngua, se produz, inversamente, a limitação da presença dos corpos.
Sigmund Freud, mediante o sonho da injeção de Irma (FREUD, 1900/1996) — momento fundador da psicanálise —, constrói todo o aparato psíquico de três, que, como diz Germán Garcia, é um aparato patafísico, cuja propriedade é a de não existir dentro do tempo e do espaço euclidiano.
Nesse momento fundador, ele mostra algo que tem o atributo de ser um atrativo, algo que funciona como um ímã e que ele chamou de umbigo do sonho. Trata-se de algo que aparece no limite da decifração, pela via da fórmula química da trimetilamina — ela própria carente de sentido — e do que se apresenta mais além como indecifrável.
Dez anos mais tarde, quando já havia feito uma prática de seu invento, encontra algo homólogo ao umbigo do sonho. Estamos falando dos escritos técnicos (FREUD, 1912/1996). Eu me refiro à dinâmica da transferência, onde ele encontra a detenção nas associações em seus pacientes. Aí se faz presente um obstáculo, no qual Freud constata que se trata da pessoa do médico, sua presença. E, por sua vez, ressalta que é nesse momento que há uma maior produção transferencial: o amor de transferência como obstáculo.
Assim, pode-se fazer uma série de metáforas do irredutível: umbigo do sonho; bate-se em uma criança; o Kern/osso de toda neurose; o grão de areia na pérola neurótica etc. Não são esses conceitos, esses termos ou noções, os que poderiam se articular, fazer uma ponte, uma conexão em sua expressão, com a presença do analista? Lacan, no Seminário 1: os escritos técnicos de Freud (1986), fala da presença do analista “a brusca percepção de algo que não é tão fácil definir, a presença” (LACAN, 1953-1954/1986, p. 54) que é seu acontecimento e “frequentemente tinto de angústia (LACAN, 1953-1954/1986, p. 66). Mas acrescenta que há algo na presença que permite ao paciente tomar consciência de um enigma, um mistério. Aqui, nesse seminário, falou-se do enigma do mal, como algo cuja presença, enquanto humana, é um mistério. Talvez possamos pensar em algo que remeta à marca, uma marca. Lacan acrescenta ainda que há algo do enigma que não se pode experimentar constantemente porque se tornaria insuportável. Diz também que o humano vive tentando apagar isso que é a presença, e não perceber isso que é presença.
Voltando, se Freud forjou o aparelho psíquico com seus outros três — refiro-me ao consciente, pré-consciente, inconsciente e, mais tarde, Eu-Isso-Supereu —, sabemos que Lacan nos orienta com seus três: imaginário-simbólico-real.
Com esses três pode-se ajustar um pouco essa questão, dizer que a presença do analista dá conta de algo que não passa pelo simbólico — ou seja, não há associações — nem pela significação imaginária. No entanto, se nos remetemos ao Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, ali se acentua que a presença do analista é uma manifestação do inconsciente (LACAN, 2008, p. 121–123). Podemos pensar se existe uma equivalência entre manifestação e formação do inconsciente. A manifestação parece “direta”, sem mecanismos que intervenham. Uma formação responde a certas leis. Lacan disse que há que integrar essa presença ao conceito de inconsciente. Eu acrescentaria presença do analista enquanto uma presença real. Vimos, anteriormente, nas “Conferências introdutórias à psicanálise: a transferência”, de 1916–1917, que Freud situa o analista na qualidade de objeto, de objeto no centro da neurose de transferência. Quer dizer, um Freud muito lacaniano no qual a presença, então, que é inconsciente, na medida em que está incluída no próprio conceito de inconsciente, aparece onde imagens e palavras claudicam. Em suma, é o que já conhecemos como instituição do objeto a, o parceiro essencial do sujeito, a essa altura (Seminário 11), causa do desejo.
Por que razão, ou por que, é relevante que, reproduzida essa neurose de transferência, nos encontremos com esse obstáculo que evidencia, com a presença, que ali não há memória ou representações?
Então, me atrevo a enfatizar que, justamente pela via dessa presença real do analista, sugere que não se trata apenas de interpretação ali. Ou, pelo menos, também deixo como proponho: trata-se — diria — de uma operação que põe em jogo, justamente, as sucessivas definições que nos são apresentadas sobre o que é interpretar. Ou uma interpretação que tem a ver com presença, ou seja, ligar algo ali com as variações e voltas que podem ser dadas sobre o que será interpretar, ou, se preferir, a diferença entre ato e interpretação.
Se o seminário sobre os conceitos fundamentais da psicanálise é um seminário que tem o caráter de dobradiça, no qual o ensino de Lacan começa a dar uma guinada em torno da conceituação desse objeto — o objeto a, causa do desejo —, isso se estrutura em torno dessa função que chamamos a função de causa do desejo: o objeto a, analista. Precisamente, o capítulo 10 do Seminário 11 se intitula “A presença do analista” (LACAN, 2008).
Presença e amor real
Penso que é muito interessante sublinhar algumas coisas, como fiapos. Primeiro, Lacan diz que é um termo muito bonito, ele o expressa assim. Em segundo lugar, para retomar algo que indiquei antes — essa presença e a transferência —, Lacan ali começa a debater com os pós-freudianos sobre a transferência; se nomeiam a transferência como um sentimento, se se trata de ambivalência, separa-se a transferência da repetição, etc. Mas ele enfatiza novamente a questão da transferência e o problema de saber se ali se trata como significação — o amor como algo autêntico —, nesse ponto máximo suscitado pela presença do analista. Um amor que, poderíamos dizer, não é identificação, mas que está do lado do real. Ele também usa outra palavra, que é a palavra essência. Ele a usa apenas uma vez para se referir a algo desse amor e, também, à presença. O significado de essência é interessante. Segundo o dicionário, significa, entre outros significados, algo permanente, invariável, que não muda em relação a uma coisa. Trata-se, justamente, de que essa presença é a que dá testemunho, ou seja, “há alguém ali” presente. E de que coisa essa presença testemunha? Da perda que é originária, sem compensação, sem saldo a favor do sujeito que fala. Algo que, por sua vez, faz a posição do analista, um lugar (e o acentua) que é muito conflitante.
Vou tentar dizer de outra forma, com noções que são limites: falta de rememoração, algo opaco, misterioso na presença; uma falta de significação — mas uma significação quase absoluta que é o amor — e que não remete à verdade. É a transferência como resistência, o fechamento do inconsciente enquanto pulsátil. Ou, como Lacan o chama em uma antecipação topológica, um nó górdio.
Então, nesse limite, o analista, ali em sua operação, atua ou não atua? Opera ou não opera? Intervém, interpreta? Através do eco? Pela ressonância? Por algo que lhe vem de suas próprias marcas, de suas próprias cicatrizes como o analisante que é ou o analisante que foi?
Inevitavelmente, poderia surgir algo que aparece indiretamente ali, ou ligado ali, no lugar do analista: a pergunta se se trata de algo que implica a função do desejo do analista com um algo a mais.
Porque função, reconheçamos, é aquilo que, em Lacan, remete a sua ambição de ter feito da experiência e da prática da psicanálise uma disciplina absolutamente lógica, matematizável, reduzida a fórmulas, sem equívocos. Mas surge aí algo interessante, pois, para formular isso, no final do Seminário 11, Lacan vai dizer que o desejo do analista é impuro (2008, p. 260). Portanto, se o desejo do analista é impuro, parece-me que não há razão para não pensar a função do analista como tocada, salpicada de algo de uma impureza.
Lacan diz que, se se trata do desejo de obter a diferença absoluta, essa diferença absoluta o é na medida em que implica tocar, obter aí algo de uma marca: isso que é diferença, mas enquanto absoluta. Parece-me que o absoluto não se refere ao todo, mas a algo à parte. Eu diria, é isso que, na medida em que é absoluto, não é permutável, não é modificável. O significante, por outro lado, é permutável, intercambiável um pelo outro.
A pergunta que me fazia era: não seria essa impureza o que levaria Lacan, nos próximos dez anos, a deixar e abandonar tudo o que é lógica, a matematização, discursos, em relação à prática analítica? Não é justamente a partir do Seminário 11 que o psicanalista está posto no banco?
Se o semblante é aquilo que tem a ver com um vazio e uma significação ao mesmo tempo (é a definição um pouco mais rudimentar de semblante), ou dito a partir dos três registros, ele implica algo real bordejado, circunscrito, ajustado pelo imaginário/simbólico, a função do analista pela via do desejo acaba por permanecer pelo que ela tem a ver com a presença. Esse limite, essa aparição, talvez a marca — e aqui acrescento algo mais — seja a encarnação disso, encarnando-se ali como tal. A coisa impura tem a ver com a encarnação disso.
Do estilo como presença encarnada
Desvio-me um pouco. Eu lhes falei de Giannuzzi, do estilo. E quero me valer de algo da referência ao estilo que Jorge Faraoni havia utilizado; Ricardo Gandolfo também falou em um certo momento sobre o estilo, quando se trabalhou no seminário algumas dessas aulas sobre o tema.
Para dizer apenas algumas coisas, certamente, mais tarde, vocês poderão, melhor do que eu, adicionar algumas referências sobre isso, pois meu comentário sobre estilo não é exaustivo; do que se trata? A pergunta tácita que agora exponho é: está ou não em jogo o estilo do analista? A função “desejo do analista”, estando na veia lacaniana da lógica, da matematização, frente a isso, o estilo é isso que, me atreveria a dizer, se aproxima dessa outra questão, digamos, “não lógica”, a presença encarnada; onde a função, em sua pureza, devido à impureza, vacila um pouco, não se faz suficiente.
Voltemos então a nos colocar nesse lugar, no lugar do semblante do objeto a, não representável, não significante, mas que, por enquanto, vale como significante, como esclarece Jacques-Alain Miller. A aposta que o objeto a não é um significante, mas vale como significante, responde a esse afã lacaniano da matematização, da lógica, das fórmulas, mas, diria, marcado por algo que aparece, uma presença, um algo impuro em relação a ele. Pode-se dizer que é algo a mais, pois é encarnado.
Eu vou dizer de outra forma. A função do analista como um significante qualquer, mas ao nível do a como presença do analista, encarnação desse algo, se trata de alguém. E, a esse respeito, me apoio em uma frase de Germán García. Você poderá encontrá-la em um de seus livros (que são uma série de cursos que Germán deu no norte da Argentina), intitulado Derivas analiticas del siglo: ensayos y errores (2014). É um curso de 1988, uma compilação de todas as aulas em que Germán García, quando fala do semblante, diz:
“(…) quer dizer, como diz Lacan, poder ser um objeto qualquer para depois ter um nome. Se se diz que o analista é qualquer um, deve-se dizer também que o analista é sempre alguém, e que alguém tem um nome, o único traço que o analista põe em jogo é o de um nome, os demais são postos pelo analisante” (GARCÍA, 2014, p. 45. Tradução nossa).
Se tomarmos esse ponto pela via do estilo, sabe-se que, em linhas gerais, o estilo é algo que se trabalha e é muito trabalhado no campo da estética, da arte, da literatura, enfim, da criação. Mas aceita-se que não se trata tanto do autor em si, do nome próprio, mas da obra, que o estilo esteja em sintonia com o objeto de que se trata.
Por exemplo, Witold Gombrowicz propôs incomodar com estilo. Poder-se-ia dizer que é em sua literatura que existe o traço do desconforto, o estilo, mais além do próprio Gombrowicz. Na tradição literária, estilo refere-se a algo que é singular, algo que é um traço destacado dentro do que é um movimento cultural, dentro de um autor, de um momento cultural, uma época.
Isto também é interessante: há um traço do que poderia ser pensado como o humano, a condição disso que, por sua vez, é alcançada. Há uma estética acabada, não modificável no nível do que se alcança no objeto artístico e que, por sua vez, tem uma aura enigmática, de mistério. Novamente Germán García vem em meu auxílio; no mesmo livro, algumas páginas depois, ele diz algo que me parece relacionado comisso do estilo. Se o Real implica esse gozo relativo ao corpo, aproximamo-nos então da presença como o que ela encarna. Cito Germán García:
“No real a pergunta é de que goza [enquanto corpo e de que se goza]… A frase de Lacan ‘o desejo do analista não é um desejo puro’ é um desejo conectado a um corpo, a uma substância gozante. Quer dizer que o enigma da interpretação é um eco do enigma do próprio gozo do analista” (GARCÍA, 2014, p. 50. Tradução nossa).
Ou seja, haveria um estilo do analista enlaçado ao nome próprio, que faz o estilo enquanto uma presença. Um traço que tem algo estético, uma forma acabada, singular, e que é eco do próprio gozo do analista, é uma maneira que encontrei de dar uma volta na frase de Germán. Tensão com o Lacan anterior aos Seminários 10 e 11. Dado que, se Lacan estava extremando esse afã lógico, matematizável, de nos propor o inconsciente estruturado como discurso, chegando a preferir um discurso sem palavras, para depois dizer que não há mais do que semblante, vemos que, já no fim do Seminário 19, ou pior…, começa a dizer, a assinalar, a situar que há algo a respeito disso que se impõe, do que aparece. Nessa instância, o chama de um suporte para esse giro dos discursos e nos diz “(…) fazer desse de-ser o suporte com esse des-ser de ser o suporte…” (LACAN, 2012 p. 226).
Acrescenta: “(…) se existe algo que se chame discurso analítico, isso se deve a que o analista em corpo, com toda a ambiguidade motivada por esse termo, instala o objeto a no lugar do semblante. (LACAN, 2012 p. 222)”.
Quer dizer, temos o discurso, o objeto, o semblante e o corpo. Então, se estou tratando de transmitir, de expor nesses apontamentos, é porque me parece que, diante da reformulação lacaniana — a partir dos seminários 10 e 11 —, da prática e da experiência analítica, surge a pergunta se se trata de um corte. Podemos debater se é um corte ou uma continuidade topológica. São debates. Isso porque uma das razões (entre outras) é essa encarnação, esse no corpo (un corps, homófono de encore) que começa a ter toda uma presença diferente em nossa prática, na experiência, no ensino, na sua relação (se houver) com o lugar do analista. Também me atrevo a assinalar que, de modo geral, acostumamo-nos a falar do gozo como pulsional. É o mais clássico entre nós. Articulado, certamente, ao objeto. É por isso que o analista representa, ou está nesse lugar; ele é semblante de objeto. Por isso, temos a parte elaborável desse gozo.
Mas a ideia seria a seguinte: se não é, precisamente, pelo semblante de objeto a, a partir dos seminários 20 e 21, que aparece a presença por essa encarnação nesse lugar e nessa função impura do desejo do analista, que se revela ou se afirma a questão de um gozo que não é somente pulsional. Ou, dito de outro modo: se o objeto a (do qual o analista é semblante) é o elaborável do gozo, resta ao analista, em presença, ser aquele que encarna o não elaborável do gozo. Se podemos pensar que se possa tocar em algo desse aspecto do gozo, nomear, incidir sobre ele, para que isso aconteça, é imprescindível a presença. Mesmo que ela não garanta que isso aconteça.
O semblante se vincula, se ajusta, ele implica em si um vazio. Por isso, Miller assinala: “(…) se Lacan se lançou aos nós, foi para tentar lhe dar, fora da articulação linguística saussuriana, dar substância a esse vazio” (MILLER, 2008).
Visto de um outro ângulo, se diria que já não se trata de um só gozo. Sim, do campo do gozo, mas pluralizado. Por isso a questão do corpo e seu mistério falante faz sua aparição.
É a partir do texto “A Terceira” (sobre o qual lhes recomendo “Leituras da Terceira”, texto de Gabriela Rodríguez e outras colegas de La Plata) que encontramos os três registros lacanianos no esquema do nó aplanado. Na base de tal esquema, encontramos o objeto a. Deixando de lado o que, a partir desse esquema, será o desenvolvimento do ensino de Lacan em torno dos nós, me interessa fixar em uma recomendação lacaniana nesse texto. Para se referir ao analista, Lacan utiliza figuras e personagens como o palhaço, o bufão. E aconselha a não o imitar e fazer como ele: descontraídos, naturais, sem presunções, bufões, palhaços. Por que motivo Lacan incorpora essas figuras do palhaço, do bufão e as relaciona com o analista quando este está formulando um mais além da matematização, do Nome-do-Pai, do falo? A maneira que encontrei de abordar essa pergunta foi através disto, que trato de lhes colocar: a presença, o corpo, a encarnação ali do analista.
O gesto inesquecível
Para aproximarmos a responder algo sobre isso, pode-se mostrar com um exemplo muito conhecido e difundido entre nós. Um, ao menos assim me parece, que abona o que venho desenvolvendo. É o conhecido testemunho de Suzanne Hommel. Esse testemunho expõe, no meu entender, que ali se tratou de uma operação de Lacan, por sua presença em corpo com esse gesto leve na pele de Suzanne Hommel, quando ela fala repetida e insistentemente de seu sofrimento, de se despertar sempre às cinco da manhã com a recordação atormentadora da Gestapo, do Holocausto, da perseguição aos judeus. E, quando Lacan salta da cadeira do analista, de modo surpreendente, acaricia suave e levemente sua bochecha, é ela quem depois interpreta translinguisticamente Gestapo (do alemão) por geste à peau — em francês “gesto na pele”.
Gesto lacaniano que é bufonesco. Esclarecendo o seguinte: não caiamos rapidamente em pensar que o bufão (que também tem sua origem, sua inserção, tal como o menestrel, no popular, para o povo) era somente a diversão e o canto na corte. Também aliviava os sofredores. Ele ia ou se aproximava do leito dos enfermos, dos enterros, ou do que poderiam ser, nessa época, os enterros. Vá saber se havia enterros como existem agora. Mas havia algo do bufão (como também o menestrel) acompanhar ali, em presença, aquele que sofria, no limite da vida. A tal ponto que era a Igreja que se encontrava muito incomodada a respeito dessa função, pois não recorriam a ela. E com uma habilidade que, creio ser atribuída a Assis, o santo, que se pode, com alguma manobra, captar isso para o interior da religião. Porque o bufão cumpria uma função que a religião não cumpria, que tinha a ver com isso da vida que não é só o gracioso. Então, recordemos que temos que associar isso também ao bufonesco e aos menestréis. Como aqueles que tinham o nome próprio como algo singular, relativo a algo corporal, a um traço que os caracterizava. Algo como uma deformidade, ou defeito particular do corpo, e que, com isso, lhes permitia exercer essa função poética, teatral, comediante, de cantos, ou seja, uma espécie de um condensado da condição humana, não tanto por suas características de brilho, etc. E Suzanne Hommel diz: o gesto de Lacan é um gesto de humanidade. Porque introduziu um algo a mais vivo, que ela diz, até hoje, sentir na pele, ainda que o sofrimento, como rememoração, não cesse. Mas, para ela, algo ali está amortecido, algo está ali capturado, tocado nesse geste à peau que lhe trouxe um mais de vida e um menos de sofrimento iterativo. Creio que esse é um gozo que não podemos classificar de pulsional, que se introduz com esse gesto, esse ato de Lacan, mais além do sentido e da lógica fálica.
O outro exemplo, no qual vou me apoiar e vou resumir brevemente, talvez vocês o conheçam. É um dos testemunhos de Berta Mildner, publicado na revista Lacaniana. Mildner explica que, ao longo de sua experiência, sempre teve imbróglios com o corpo. Fazia dos livros um recurso permanente, ao saber exposto neles, e que se manifestava nela como alterações da respiração. Uma respiração constantemente agitada. E que, diante da insistência disso, há uma intervenção do analista que lhe disse: “esse saber não lhe serve para nada” (MILDNER, 2017, p. 59). Primeiro ela o localiza assim. Silêncio. Silêncio do analista.
Quer dizer, fazer sentir uma presença ali pelo silêncio. Ela assinala que o efeito disso é uma grande e intensa angústia. Apontamos, de passagem, que já falamos disso. Lacan afirma, em “A Terceira”, sobre a angústia como sintoma tipo articulado ao corpo. E Mildner diz: “separação máxima entre o corpo e as palavras” (2017 p. 59). E só uma recordação. A última das lembranças encobridoras é produto de um relato do Outro materno. Ela era muito pequena, com crise de bronquite e agitação. Corre às emergências médicas. Diante dessa recordação, ela chora e chora e não há mais que choro. Sem parar. Há uma intervenção nesse relato, de um pediatra — nessa recordação materna — que recomenda algo absolutamente natural: ar livre, que respire ar livre, ar fresco. Uma segunda intervenção do analista, ela diz: “A intervenção do analista foi nomear isso como o trauma” (MILDNER, 2017, p. 60). O que diz Mildner em seu trabalho? Há queda de todo sentido, esvaziamento do sentido, um vazio, mas com um nome. Surge-lhe uma imperiosa angústia, uma vontade de ir ver o analista e lhe falar, como retorno transferencial. É muito interessante porque ela diz que, no meio da sessão, levanta-se bruscamente do divã, senta-se diante do analista e lhe fala da lógica do seu fantasma, do analista como objeto a olhar, o “dizer silencioso” (MILDNER, 2017, p. 60). E que, tratando de recuperar o analista-olhar, mais e mais… surpresa. Aqui surge o interessante, que ela ressalta. Frente a frente ao analista, Mildner ressalta que lhe parecia a pura presença do corpo, de olhos fechados, analista angustiado. Poderíamos dizer aparição, pura presença do analista enquanto corpo, olhos fechados: “encontrei o analista fazendo semblante do acontecimento de corpo (MILDNER, 2017, p. 60)”. E, depois, outra surpresa. Cito: “Saí da sessão com uma vitalidade desconhecida, plus de vida, sem Outro, que transformaria o modo de viver o corpo” (MILDNER, 2017, p. 60).
Nenhum sentido, efeito de um outro enodamento, um vazio de significação. E dir-se-ia “tudo” (o tudo é irônico) pela presença.
Me vali da noção de presença do analista e de todas essas derivadas, que entendo ter uma característica inconclusa, insuficiente, porque abre muitas pontas: marca, objeto, semblante, interpretação, operação, encarnação, função do desejo do analista impuro, o corpo, etc. Porém, em todo caso, me surgia a pergunta se podemos fazer como Lacan diz: “natural”, sejam naturais, sejam soltos, palhaços, bufões. Ou como também diz no Seminário 21, “Les non dupes-errent”: recomeço.
Voltaria ao título: Tem alguém aí? Por que volto ao título? Porque, com essa noção da qual me vali, presença do analista, para aproximar-me desse limite, desse lugar limite, disso que não se pode elaborar, dessa opacidade, desse gozo mais além, mais além do Nome-do-Pai, podemos colocar os nomes que vocês quiserem… Minha pergunta, então, é: o que aí se pode obter da análise como marca disso? Germán García disse por aí que a marca e/ou as marcas de uma análise são as cicatrizes da experiência. Ou, senão, como diria Éric Laurent, enquanto o “inesquecível” dela. Como Suzanne Hommel o testemunha. É inesquecível. Algo ali é inesquecível. Ou, se a marca ou as marcas dizem respeito a esse gozo indecifrável, “fazer-se uma conduta com seu gozo” (OSCAR, 2012, p. 100).
Outra maneira de dizer o que poderia se esperar, entre outras coisas, da experiência de uma análise, eu encontrei na poesia de Joaquín Giannuzzi, de quem lhes falei no princípio e que me impulsionou a intitular a exposição “Tem alguém aí?”. Eu a transmito com um poema que lerei a vocês, porque entendo que expressa algo disso que apresentei. Chama-se “Uma palavra virgem”:
Só ela sobreviveu
de um texto que esqueci. Desde então
é presença musical em minha cabeça.
Era-me desconhecida e, no entanto,
mantive fechado o dicionário
onde segue esperando, em estado puro,
para entregar-me seu segredo. Deste modo
preferi livrá-la da servidão do significado
e criar-lhe um paraíso contra o conhecimento.
Resgatada
do contexto e da confusão conservo-a
como uma joia pessoal.
Agora, nas noites de insônia,
quando o nome das coisas cai na fadiga
apalpo-a e saboreio
como a uma mulher amada na escuridão.
Somente seu som, sem identidade, sem assunto,
percorre sussurrando minhas entranhas:
hipálage, hipálage, hipálage.
Algo deve haver ali dentro que resiste
como um desconhecido gozo triunfante.