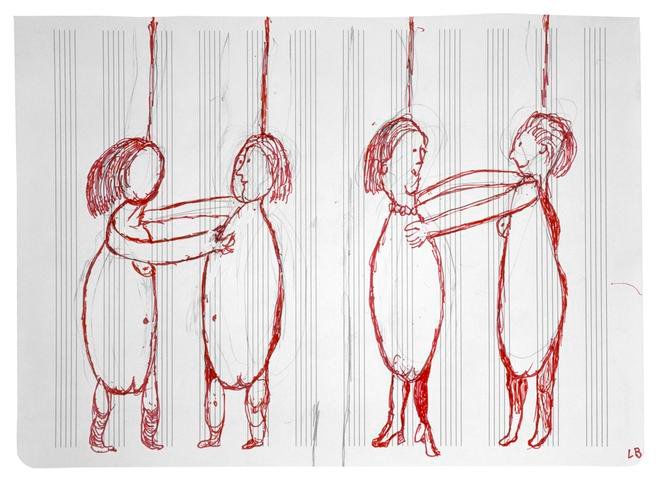Entrevista Com Antônio Teixeira Por Márcia Mezêncio, Maria Das Graças Senna E Ludmilla Féres Faria
ANTÔNIO TEIXEIRA
ENTREVISTA
NEM MESTRE NEM JOKER: O DESTINO DA CARTA EM DERRIDA E LACAN
Almanaque: Alguns autores consideram que Derrida, ao elaborar críticas pontuais e certeiras à leitura lacaniana de “A carta roubada”, se precipita ao generalizar essas críticas ao conjunto da obra de Lacan, mais especificamente aos Escritos. O que pode nos dizer a respeito dessa afirmação? Pode-se dizer que o texto “O carteiro da verdade”, de Derrida, apresenta uma vertente contra Lacan?
Antônio Teixeira: Não há dúvida de que “O carteiro da verdade” seja uma crítica veemente de Derrida a Lacan; tem-se ali uma carta expressamente dirigida a seu destinatário, e é nesse sentido que o texto-missiva de Derrida provoca entre nós, lacanianos, um visível efeito de comoção. Sentimo-nos afetados pela crítica de Derrida a Lacan, como se isso exigisse de nós um posicionamento em defesa de nosso mestre, coisa que de fato se sucedeu. Não faltaram intervenções da parte de autores lacanianos destinadas a expor os equívocos de Derrida, com vistas a salvaguardar o valor da doutrina de J. Lacan. Eu creio, contudo, que hoje em dia não caiba mais socorrer Lacan. O valor e a coerência de sua doutrina estão mais do que estabelecidos, Lacan dispensa nosso socorro. No lugar de tomar partido de Lacan contra Derrida, eu preferiria aqui expor a temática que essa polêmica mobiliza, pois acredito que uma abordagem mais desapaixonada, menos afetada pelo dever de defesa, talvez nos permita melhor localizar o que estava em questão no tratamento psicanalítico de um texto literário, no que diz respeito a seu endereçamento significante.
A bem da verdade, se de fato considerarmos de saída o que significa a abordagem psicanalítica de uma ficção literária, encontramos motivos para localizar, em “O carteiro da verdade”, não apenas uma vertente crítica, mas também um elogio aberto de Derrida a Lacan. Antes de Lacan, o que até então normalmente se encontrava na psicanálise da literatura, paradigmaticamente ilustrado na vasta psicografia de Edgar Alan Poe por Marie Bonaparte, era uma prática de desnudamento das motivações inconscientes do autor, por meio de uma busca pelo sentido oculto de suas elaborações ficcionais. Valendo-se de dados biográficos, a psicanálise, ali, visava o desvelamento alegórico das supostas determinações fantasmáticas do autor sob o conteúdo manifesto do texto literário, ora fazendo da carta roubada um substituto do pênis materno originalmente perdido, ora interpretando o pagamento em ouro a Dupin pela rainha como uma representação simbólica da restituição do falo que o ficcionista tenta recuperar ao longo da trama. Pois nada disso se dá na leitura lacaniana do texto de Poe, reconhece J. Derrida. Nada de psicografia, nada de carta-pênis, nada de papai-rei, nada de mamãe-rainha, nada de filhinho Dupin. Sobretudo nada de hermenêutica, nada de busca pelo sentido oculto. Em Lacan, escreve elogiosamente Derrida, a lógica do significante interrompe esse semanticismo ingênuo, num “estilo feito para frustrar o acesso um sentido unívoco, determinável além da escritura”.
E, de fato, ao lermos o texto de Lacan, raramente dimensionamos a diferença que sua leitura produziu sobre o que se fazia antes, porque, de certa maneira, nos habituamos ao que originalmente se deu de modo inabitual nessa diferença. Se hoje as interpretações alegóricas de uma Marie Bonaparte nos fazem bocejar, é porque Lacan nos formou num novo tipo de leitura que recusa o semanticismo ingênuo que até então vigorava na interpretação psicanalítica do texto literário. Lacan dispensa a via hermenêutica fazendo-nos notar, desde as primeiras páginas de seu texto sobre a carta roubada, que o sentido do que motiva o delito se encontra eliminado da narrativa. O problema se limita à busca pela devolução do objeto-carta, cujo conteúdo semântico não tem lugar no desenrolar da trama. O que conta são os deslocamentos, são as mudanças de posição da carta como significante puro, e não o significado que se lhe possa atribuir.
Armado da perspectiva estruturalista, Lacan, ali, nos convida a detectar, no texto de Edgar Alan Poe, o modo pelo qual uma ordem simbólica autônoma, ou seja, independente dos significados circunstanciais do contexto, vem constituir a posição do sujeito. Interessa-lhe, sobretudo, destacar a primazia do significante nessa determinação subjetiva, tal como se ilustra nos efeitos gerados pela posse do significante-carta sem que esteja em questão o conteúdo da mensagem epistolar. O módulo intersubjetivo da ação assim se repete na forma dos três olhares que se supõem um ao outro, no interior dessa ordem simbólica afetada pela carta roubada, e que se alternam em função da circulação do significante que a carta materializa:
- o olhar que nada vê, representado pelo rei, no primeiro momento, e em seguida pela polícia;
- o segundo olhar, que vê que o primeiro não vê e que se engana por crer encoberto o que expõe, encarnado pela rainha e depois pelo ministro;
- e, finalmente, o terceiro olhar, que vê que o primeiro não vê e que vê o que se encontra a descoberto justamente para ser escondido: o ministro e, em seguida, Dupin.
Percebe-se, assim, que cada personagem se determina como um olhar em função do deslocamento promovido pela circulação do significante-carta que, a cada um, afeta não pelo que significa, mas pelo que comporta de suspensão da significação. O rei e a polícia, sustentações icônicas do discurso em sua ordem fálica, ali encarnam a imbecilidade do olhar que nada vê. Diante do falo, que o rei e a polícia encarnam, na forma do significante que prescreve a ordem das significações, o olhar inteligente se diferencia em sua capacidade de ler entre as linhas (inter-legere), o que se oculta nos intervalos das significações prescritas. Já a imbecilidade do rei se encarna na cegueira do olhar, que não percebe a carta exposta sobre a mesa, porque somente enxerga as significações codificadas, assim como a estupidez realista da polícia consiste em não perceber, como diz Lacan, que o que se oculta é algo que falta em seu lugar simbólico. Incapaz de escrutar o simbolicamente oculto no empiricamente exposto, ela se exaure inutilmente no esquadrinhamento interminável das ocultações reais.
Por oposição, pois, ao rei, ícone precário destinado a dar permanência à lei fálica, a rainha desestabiliza essa permanência por ocupar o lugar do feminino cujo ser se funda fora da Lei, materializado na posse da carta. Se a estática da estrutura simbólica se define como um sistema regrado por suas leis internas, sua dinâmica supõe a existência de algo no interior da estrutura que suas regras não alcançam, e que a coloca em movimento. É preciso – se me permitem ser repetitivo – que algo da estrutura escape às regras da estrutura para que a experiência da estrutura possa se realizar. Isso quer simplesmente dizer que não haveria conto da carta roubada se a carta voadora não viesse justamente encarnar esse ponto de fuga do feminino que afeta o sujeito ao mobilizar a estrutura, desestabilizando as significações codificadas de sua apresentação estática. Interessante, então, notar que todo aquele que se vê afetado por esse ponto de fuga que mobiliza a estrutura necessita permanecer imóvel para escapar de suas leis, fazendo crer que tudo continua parado em seu lugar, como se ilustra na situação da rainha que, ao se encontrar de posse da carta diante da chegada do rei, fica paralisada, sem esboçar nenhum movimento. Ela permanece estática, na simulação do controle que o olhar do ministro alcança, ao perceber o ponto de geração do movimento fora do movimento gerado, na forma paralisante da inação. O destino da carta móvel, assim, se revela por seus efeitos paralisantes sobre seu detentor. É por esse motivo que agora, ao cair em posse da carta, desse signo do feminino que escapa à vigília da ordem fálica, não por acaso, o ministro – observa Lacan –, por sua vez, se feminiza, mantendo-se imóvel à sua sombra. No lugar de ocultar ativamente a carta, ele a esconde deixando-a a descoberto aos olhos da polícia, como a rainha o fizera aos olhos do rei. Mas a posse da carta o entorpece, numa espécie de negligência blasée, fazendo-o também se expor, agora aos olhos do detetive Dupin, na atitude reveladora de sua inação.
A sequência é de todos conhecida. Ocultando o olhar sob óculos verdes, Dupin, em pouco tempo, divisa, em visita ao ministro, no seu apartamento, a carta desdenhosamente abandonada no consolo da lareira, dando a impressão de que se tratava de um documento sem valor. Havendo esquecido propositalmente sua tabaqueira no apartamento, ele ali retorna a pretexto de recuperá-la para, sigilosamente, se apropriar da carta e substitui-la por uma outra, após ter preparado um incidente na rua visando distrair a atenção do ministro. E, para se retirar, finalmente, do circuito simbólico da carta, nota ainda Lacan, Dupin se neutraliza fazendo-se remunerar, ou seja, trocando a carta pelo seu valor equivalente em dinheiro, significante cujo efeito é justamente o de produzir a aniquilação de toda significação. Mas sejam quais forem os desvios da carta, ela ainda assim segue, no dizer de Lacan, o trajeto significante que a conduz a seu destinatário, que é o lugar antes ocupado pelo rei, ou seja, o lugar da significação fálica que a rainha necessita preservar para não permanecer como pura deslocalização, mesmo dela escapando.
Para retomarmos, então, a crítica de Derrida a Lacan, necessitamos considerar justamente o fato de que, para o filósofo, diferentemente do psicanalista, a linguagem não comporta, por necessidade própria, nenhum endereçamento determinado. A linguagem, no entender de Derrida, seria um puro jogo dispersivo, em que só contam relações de diferença e efeitos de disseminação que a carta voadora materializa. Nesse sentido, qualquer destinação que se busca extrair da linguagem será sempre uma destinação forçada, pois é somente na medida em que um poder exterior se impõe à linguagem que ela passa a comportar uma destinação.
O sintoma desse forçamento ideológico da linguagem, aos olhos de Derrida, se verificaria nos efeitos de neutralização do narrador do conto que ele aponta na leitura de Lacan. Ao isolar as duas cenas dos três olhares que comentamos anteriormente, Lacan teria desconsiderado a figura do narrador como quarto termo, com vistas a emoldurar triangularmente a cena do Édipo na qual se inscreve o destino da carta. A exclusão do quarto termo, longe de ser um dado acidental, implicaria, no seu ponto de vista, uma decisão semântica a serviço do esquema da interpretação psicanalítica: Lacan teria colocado de lado o jogo dispersivo da narrativa, concebendo o enredo ficcional sem dar lugar ao ficcionista, como se a ficção estivesse naturalmente destinada a ser o depositário da verdade edipiana em sua prescrição falocêntrica. Somente assim, ele conclui, o seminário conseguiria mostrar que existe um único trajeto da carta, que sempre chega a seu destinatário.
Ora, existe, como todo lacaniano bem sabe, na visão de Derrida, uma concepção que ancora a linguagem no campo da escritura, por ele tomada como lugar em que a articulação dos elementos significantes não se encontram submetidos à autoridade prescritiva da fala. Sua ideia, interessante em vários aspectos, é que, em nossa tradição logocêntrica, fundada por Platão, a potência do discurso se encontra determinada por sua referência à fala do rei-pai, sem a qual o logos perderia sua unidade e se dispersaria nos jogos textuais. Por oposição ao logos fonocêntrico ordenado pela assistência do pai, o apelo à escritura rejeitada pelo rei, na mitologia de Fedro, responde a um desejo de orfandade e subversão parricida que visa restaurar seus efeitos de disseminação. Na medida em que aquilo que nos chega através de um documento escrito não depende da presença de quem o profere, Derrida entende que a escritura nos permitiria emancipar da autoridade da enunciação, dando livre curso aos efeitos dispersivos da narrativa textual. Motivado por esse desejo parricida, a Derrida interessa a desconstrução da tradição fonocêntrica para abrir espaço ao pensamento da escritura que dela foi excluído. Onde dominava o rei-pai do discurso, ele nos propõe substituir o deus Toth, da escritura egípcia, que ali funciona não como uma autoridade prescritiva do sentido, mas ao modo de um Joker, ou carta neutra, que dá jogo ao jogo na partida de baralho. Flutuante e cambiante de valor, conforme a sequência em que está inserido, “sujando”, como diz Sérgio Laia, “os conjuntos de naipes com sua imparidade”, o deus Toth da escritura nunca está presente na ordenação do texto. Sua propriedade, prossegue Derrida, é sua impropriedade, sua indeterminação que permite a substituição e a expansão contínua dos jogos de narrativas num espaço aberto.
Em sentido contrário, portanto, ao projeto anunciado por Lacan de inscrever a psicanálise no campo ordenado da fala e da linguagem, Derrida propõe pensar o inconsciente freudiano na cena da escritura. O que permitiu a Freud, no seu entender, desalojar o sujeito do eu e da consciência, para concebê-lo como efeito de processos inconscientes, seria justamente o gesto que separou o pensamento da fala e de seu registro co-extensivo da presença. Dissociado da intenção que preside a fala, esse inconsciente estruturado como uma escritura diria respeito não a uma significação que inesperadamente se encerra em um significante à parte de frase, como Lacan propõe com a operação de capitonage, mas a uma rede de traços diferenciais gerados por excitações psíquicas que, por sua vez, se abrem para novos traços excitatórios. Os múltiplos sentidos seriam produzidos pelas diferenças que, na experiência psicanalítica, se produzem por meio da prática de associação livre, cuja função seria justamente a de relançar a cena psíquica da escritura em seu processo de diferir. No lugar, portanto, do ponto de estofo de Lacan, temos o espaçamento de Derrida, em que os traços geradores de sentido se dispõem num campo sucessivamente expandido pelo seu próprio diferir, sem que nenhuma destinação nos autorize a conter os efeitos subjetivos de sua disseminação. Qualquer esforço de se restabelecer um centramento da linguagem, do qual um dos nomes seria a concepção lacaniana do endereçamento fálico da carta, não mais seria, no entender de Derrida, do que uma tentativa de reabilitar a velha tradição metafísica da presença e do logos fonocêntrico que ele tanto se empenha em desconstruir.
E de fato podemos dizer que Lacan não abre mão da ideia de destinação da carta, em referência ao lugar da lei ocupado pelo rei no conto da carta roubada. Mas em vez de exaltar o falocentrismo dessa determinação régia, na forma, digamos, de uma significação eminente, Lacan, em todo momento, nos conduz a ver que essa função, longe de corresponder a uma significação ideal, comporta, conforme dizíamos no início, estruturalmente uma cegueira, sendo antes própria “para se tornar símbolo da mais enorme imbecilidade”. Lacan em nenhum momento idealiza a representação da lei, ainda que a tome como ponto de destinação. Ele nos mostra que, embora o significante fálico coloque como significante a parte que representa o sujeito para os demais significantes, gerando os efeitos de significação, o que dá eficácia a esse significante em posição de exceção não tem nada a ver com um suposto valor elevado, no sentido de uma plenipotência imaginária que certa deriva durkheimiana da psicanálise atribui à função paterna. O que Lacan descobre, em seu retorno a Freud, é que a função de exceção do significante fálico se deve antes ao fato de ele ser, como o pobre rei do conto da carta roubada, um significante vazio, insignificante, o significante do que resta do significante quando já não comporta mais nenhuma significação.
Ao desconstruir, portanto, o logocentrismo referido à exceção do pai, sem perceber seu vazio no estatuto de puro semblante do significante fálico, Derrida termina, como nota Sérgio Laia, por exaltar o anti-pai, representado pelo Joker na apologia da transgressão que se expande na fuga de sentido do texto. No fundo, Derrida só faz permutar uma eminência por outra contrária, talvez tão estúpida e banal quanto a primeira: ao se irromper contra a ordenação da unidade da fala pelo significante fálico, sua apologia da disseminação textual parece destinada a finalmente idealizar como regra o regime contemporâneo do que hoje chamamos de pós-verdade, referido por Lacan, em La chose freudienne, ao ‘mercado mundial da mentira’. E, ao que tudo indica, o espectro do Joker parece hoje se encarnar nas figuras de Trump e – liberanos domine – Jair Bolsonaro, curingas ególatras e gozadores forjados nos jogos publicitários dos spin doctors, tanto mais terríveis quanto carentes de pontos de basta, incapazes de encadear em sua fala própria, sem o suporte de texto do teleprompter, qualquer significação minimamente coerente.
Almanaque: Quais consequências podemos extrair da querela Lacan e Derrida em torno do conto “A carta roubada” de Edgar Allan Poe?
Antônio Teixeira: As consequências são múltiplas, mas essa pluralidade não se pulveriza. Ela se localiza no fato de que, no nível de nossa prática clínica, não se pode conceber a psicanálise como uma experiência de pura dispersão, coisa que se lê, por exemplo, na tese, contestada com veemência por Lacan, no Seminário 11, de que a interpretação esteja aberta a todos os sentidos. Embora o sujeito não seja mestre do sentido que enuncia, nem por isso deixa de haver uma lei que ordena e localiza os efeitos da estrutura simbólica a partir justamente da instância significante, que escapa ao sentido. Mas eu gostaria particularmente de abordar, a respeito dessa função de localização e endereçamento aqui discutida, a importância que Lacan dá a posição inaugural ocupada por seu texto sobre “A carta roubada” na sequência do conjunto de seus Escritos. Existe ali uma decisão topográfica, um esforço de localização relacionado ao endereçamento dirigido ao leitor que ele visa constituir, através de seus Escritos, ao se colocar tardiamente como autor de uma obra.
Para não me delongar demais, eu irei resumir dizendo que o projeto de se constituir como obra, através da publicação da coletânea de seus Escritos, desde o início, se colocou, para Lacan, como efeito do cálculo de uma decisão. Quero, com isso, salientar que fazer-se obra não deriva, para Lacan, de um voluntarismo particular. Se ele a obra consente, é, antes, contrariado, em razão de uma escolha forçada, de uma decisão determinada pela força de um cálculo circunstancial.
O que estava em questão por ocasião da publicação dos Escritos, no final de 1966, eram os efeitos da ainda recente fundação da Escola Francesa de Psicanálise, criada em 1964, da qual Lacan assumiria explicitamente o encaminhamento tanto institucional quanto ético, político e epistêmico. Lacan estava em vias de estabelecer a unidade dessa orientação quando consentiu em publicar a coletânea selecionada de suas intervenções escritas. Sua escolha forçada pela obra se ligava, naquele momento, ao imperativo ético de restituir o sistema de pensamento em que o texto freudiano, deturpado em sua apropriação instrumental pelo contexto da ego-psychology, voltasse a revelar sua necessidade própria. A refundação da doutrina freudiana como um sistema dotado de necessidade interna implica, antes de tudo, separar a unidade da doutrina de sua disseminação circunstancial, apartando o campo das proposições necessárias da teoria dos enunciados sem necessidade das opiniões.
Nessa perspectiva, assumir a dimensão de obra, em seu sentido propriamente moderno, significa instaurar, em meio à disseminação geral da cultura, a unicidade do uma doutrina autônoma que desse múltiplo se diferencia, ali introduzindo uma superfície de refração. A obra tem por função separar, em seu endereçamento doutrinal, o corpo dos enunciados teóricos do contexto cultural que dissipa o pensamento na pluralidade inconsistente das opiniões. Centrada num sistema de nomeações que confere ao conjunto dos enunciados uma forma reconhecível, a obra realiza essa unicidade mediante a associação do nome do autor com o título materializado na publicação. O conceito gestado no interior de uma obra afirma-se, assim, como um conceito de autor, via de regra definido por um nome próprio, embora tal autoria possa também ser referida a uma coletividade reunida em torno de determinado paradigma. É nesse sentido que falamos do inconsciente freudiano, do engajamento de Sartre, do habitus de Bourdieu, da mais valia de Marx; como também podemos nos referir à lógica de Port Royal, à álgebra comutativa de Bourbaki, e assim por diante.
Importa, porém, lembrar que nem toda produção autoral se determina como obra, se dermos a esse termo seu sentido específico. É possível ser autor de artigos ou mesmo de livros sem ser necessariamente autor de uma obra, como de fato acontece na grande maioria dos trabalhos a que chamamos de monografias. Distintamente do autor de obra, o autor de monografia geralmente publica seus textos em periódicos destinados à difusão do saber já articulado a um determinado campo doutrinal. Embora Jean-Claude Milner reserve o termo “monografia” aos artigos relacionados à atividade científica, como aqueles que se publicam nos periódicos de física ou de biologia, a mim parece mais exato aplicar essa denominação a todo saber produzido no campo de uma prática discursiva previamente constituída. É nesse sentido que podemos chamar de monografias os artigos divulgados, por exemplo, numa revista de arte ou de crítica literária, sem que seu conteúdo resulte necessariamente de algum tipo de atividade científica. A monografia é a produção que se realiza no endereço já constituído por um paradigma ou sistema de pensamento.
A esse respeito, vale salientar que Lacan soube consentir com a monografia no período em que o contexto o permitia. Ele não somente publicou diversos escritos monográficos, ao longo de sua vida, como também dirigiu uma importante revista – La psychanalyse – destinada a esse tipo de divulgação. Se Lacan aceitou tardiamente adotar o desvio pela obra com a publicação dos Escritos, em 1966, foi por considerar que o contexto absorvera a psicanálise, transformando-a numa prática de gerenciamento de almas que terminou por dissipar o endereçamento específico da doutrina freudiana.
Durante certo tempo, eu acreditava ver uma singularidade no fazer-se obra de Lacan. Lacan não construiu um escrito destinado a realizar-se como obra, como foi o caso da Traumdeutung freudiana, a qual seguia canonicamente as normas de revisão bibliográfica, recolocação do problema, estabelecimento de hipóteses e, finalmente, fundação de uma nova perspectiva para tratar o objeto assim constituído. Agradava-me, nesse sentido, pensar que a obra de Lacan teria algo que se aproxima do ready-made de Marcel Duchamp. Assim como uma roda de bicicleta se converte em obra de arte pelo gesto calculado de deslocamento de sua posição na percepção social da mercadoria, transportando-a para a sala de exposição de um museu, o conjunto das monografias de Lacan parecia ter-se convertido em obra pelo simples gesto que as encadernar num volume intitulado Escritos. Uma inconfidência de Derrida, aliás, parecia confirmar minha hipótese. Ele nos relata que Lacan lhe havia confessado, logo após publicar seus Escritos, que seu temor não era de que o conteúdo de seu livro fosse criticado ou mal compreendido. Ele, na verdade, temia que os Escritos se desencadernassem, que a costura da encadernação não suportasse o volume de artigos; ele receava enfim que a obra perdesse sua unidade material e se espalhasse. Encantava-me interrogar esse fenômeno, para pensar a ideia desse objeto-livro como uma obra constituída pelo gesto de encadernação de textos monográficos.
Mas minha hipótese não era correta. Por indicação de Gilson Iannini, estudei a pesquisa historiográfica de Jorge Baños Orellana, El escritorio de Lacan Orellana, 1999, em que ele nos demonstra que os Escritos nada tinham de um ready-made. Para preparar sua obra, Lacan não se contentou em transportar seus escritos monográficos para o interior de um volume encadernado. Ele, na verdade, se fechou num hotel de Paris, onde permaneceu de março a outubro de 1966, relendo seus textos, reescrevendo-os e reexaminando as provas a serem enviadas para a edição final. Conforme os procedimentos de análise genética evidenciam, houve ali, durante esse período, um grande trabalho de transformação, destinado, sobretudo, a reelaborar o estilo texto final. Caberia então, finalmente, se perguntar por que motivo o trabalho sobre estilo se coloca, para Lacan, na transição da monografia para a obra fundadora de um endereçamento doutrinal.
Como já disse em outro momento, não me compete dissertar aqui sobre o vasto problema do estilo em Jacques Lacan, sobretudo porque já existe, a esse respeito, uma referência inultrapassável: o livro de Gilson Iannini, que hoje circula em sua segunda edição. A questão da estilística interessa-me tão somente como ponto sobre o qual se apreende a função unificante relativa ao endereçamento do autor, pois é dessa função que depende a unicidade da obra que diferencia a doutrina da disseminação geral da cultura, conferindo sua autonomia própria. Por longo tempo se supôs que o autor da obra só seria apreensível no que ele tem de único, ou seja, naquilo que somente ele poderia dizer através do estilo. Por isso, o estilo foi considerado, pela crítica literária representada sobretudo por Sainte-Beuve, como a ponte que nos conduz à unicidade do autor.
Havia, por conseguinte, uma espécie de devoção religiosa ao estilo, como se nele estivesse depositado o selo de garantia da obra. Sendo a obra a expressão da unidade da doutrina, o autor seria sua função unificante, a função do Um que só poderia ser captada a partir do estilo como marca do íntimo do autor em primeira pessoa na obra, cabendo à crítica literária o trabalho de seu desvelamento. Porém, Lacan já desconfiava dessa solução que consiste em buscar na relação do autor com o estilo o princípio de unificação da obra. Seu programa de retorno a Freud é contemporâneo de um movimento crítico destinado a desconstruir precisamente, em sentido contrário, o culto ao autor como princípio de ordenação do texto. Atento a tudo o que se passava a sua volta, Lacan não desconhecia o surgimento, a partir dos anos 60, de uma corrente crítica representada tanto por M. Foucault e R. Barthes quanto, mais tarde, por Derrida, que associava a importância conferida à figura do autor a uma visão individualista da obra nos termos burgueses da mercadoria e do patrimônio intelectual. Para Barthes e para Foucault, essa primazia dada ao personagem autoral seria apenas uma ficção historicamente datada do homem moderno, determinada tanto pela produção do prestígio pessoal do indivíduo com a ideologia da Reforma quanto pela necessidade capitalista de se unificar o produto do pensamento na forma-mercadoria. Para Barthes, o autor deveria deixar de ordenar a unidade da obra, dando espaço à dispersão de uma verdade impessoal do leitor, não comandada pela figura do eu. O que conta é o que o leitor entende e não o que o autor quis dizer.
Por sua vez, Foucault, ao meditar sobre a ideia do autor como princípio de ordenação da obra, revela-nos seu constrangimento em se constituir ele próprio como autor ao ser convocado a escrever o prefácio da 2ª edição de seu livro História da loucura. Foucault se sentia particularmente incomodado por entender que, no prefácio, o autor é chamado a prescrever o sentido do que foi escrito. Por isso, ele nos conclama a tomar suas palavras não como proposições unificadas pela função autoritária do autor, mas acolhidas na fragmentação dispersa que tanto interessa a Derrida: “Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e ser levado para além de todo começo possível […]. Em vez de ser aquele de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, o ponto de seu desaparecimento possível” e blá-blá-blá…
A bem da verdade, por mais irresistível que seja a modéstia de Foucault, não podemos ceder a esse devaneio no campo da psicanálise. Estamos cientes do que ocorre quando se entrega o texto à apropriação irresponsável do leitor anônimo, conforme se viu na deturpação sofrida pela doutrina freudiana em sua recepção pelo contexto americano. Seja qual for a derrisão contemporânea do autor, não podemos deixar de interrogar sobre o que queriam dizer seus fundadores. Por isso, interessa-nos meditar sobre o que o próprio Lacan tinha a dizer sobre a obra que ele nos endereçava, em 1966, e aqui retomamos finalmente o tema da carta roubada.
Ora, o prefácio, como dizia constrangidamente Foucault, é o lugar em que o autor vem dizer como se organizam seus enunciados. O prefácio é o que, na obra, mais se assemelha a uma carta em que o autor tenta explicar ao leitor como ele gostaria de ser lido. Vale, então, salientar que, para nossa felicidade, Lacan nos endereçou, em seus Escritos, esse primeiro prefácio, curtíssimo e luminoso, que se coloca na porta de entrada de sua obra, intitulado “Abertura desta coletânea”.
Lacan o inicia a partir, precisamente, de um comentário sobre a questão do estilo, evocando a célebre fórmula endereçada por Buffon à Academia Francesa de Letras, por ocasião de seu laureado: o estilo é o próprio homem. É importante ali notar que, no lugar em que o culto do estilo reverencia o personagem do autor, na figura eminente do grande homem que ordena sua obra, Lacan nos convida a meditar sobre o que há de jocoso nessa figura do grande homem, aqui representada por Buffon em seus trajes burlescos. Ao se colocar como autor de uma obra, Lacan, diz-nos Jacques-Alain Miller, não se deixa enredar pela fantasia falocêntrica do grande homem que Derrida tanto critica. O ridículo dessa fantasia estilística do grande homem, aos olhos de Lacan, é não entender que o estilo depende não da eminência do autor, mas do laço que o constitui em seu endereçamento ao Outro, na forma da mensagem que lhe retorna invertida. Nesse sentido, Lacan concebe o estilo não como uma entrega autoral da obra pronta a um leitor admirativo já presente, mas como meio de construção da obra através do leitor não dado, porém criado pelo seu endereçamento. A questão do estilo diz, portanto, respeito a quem vem a ser o leitor que ele faz existir.
Pode-se ver que a questão do ‘quem’ é aqui particularmente sensível, uma vez que o estilo tradicionalmente se abordava, conforme vimos anteriormente, como marca do íntimo do autor em sua obra, na primeira pessoa. Mais importante, porém, do que a crítica de Foucault e de Barthes ao culto ao autor, a grande subversão que interessa a Lacan vem não do pós-estruturalismo, mas do escritor Marcel Proust, grande herege que abalaria as fundações da Igreja do estilo ao denunciar como impostura o trabalho de Sainte-Beuve. É indispensável ler, a esse respeito, O escritor sem Igreja, de J.-C. Milner, do qual eu retomo aqui os argumentos. Para demonstrar a impostura de Sainte-Beuve, Proust escreveria, em 1919, os Pastiches et mélanges, conjunto hilário de versões pseudoautorais de um mesmo assunto, em que se evidencia que a figura do estilo, supostamente advindo do íntimo na primeira pessoa do singular, na verdade não comporta indexação pronominal.
Os pastiches têm por tema comum o affaire Lemoine, notícia que circulou nos jornais nos anos de 1908 e 1909, a propósito de um escroque chamado Henri Lemoine, que, ao pretender haver descoberto o segredo da fabricação do diamante, recebeu uma soma considerável do senhor Julius Werher, enganando-o com experimentos falseados. Os pastiches de Proust relatam o caso Lemoine no estilo de Balzac, Flaubert, Sainte-Beuve, Michelet, entre outros, seguindo uma narrativa indistinguível dos autores referidos. Mas os pastiches não são apenas um anedotário destinado a nos fazer rir. O que Proust ali questiona é justamente o quem referido ao estilo, mostrando que ele não comporta vínculo natural com a primeira pessoa ao ser realocado na prosa romanesca de maneira indistinta. Mas o que acontecia quando Proust escrevia, sem que ele soubesse, provoca J.-C. Milner, é que, no mesmo período em que ele redigia seus pastiches, a psicanálise já havia modificado a estrutura do íntimo, desfazendo sua indexação pronominal na primeira pessoa do singular. O Inconsciente freudiano se encontra precisamente referido ao íntimo que desconhece a repartição pronominal entre o Ich, o Du e o Er, permanecendo indeterminado no pronome neutro como Das Es.
Ciente dessa indeterminação pronominal do íntimo, a questão do estilo que interessa a Lacan não se coloca como marca inconfundível do íntimo do autor na primeira pessoa, conforme pretendia a tradição da crítica literária, mas, como diz Gilson Iannini, enquanto objeto indeterminado que afeta o leitor, transformando-o em sua intimidade. Tal indeterminação, aliás, vem a ser o que confere a eficácia ao significante-letra que circula no conto de Edgar Alan Poe: a carta, cujo conteúdo não é jamais explicitado pelo discurso que a cerca, afeta intimamente a todos que caem em sua possessão. Cabe ao leitor, profere Lacan, dar à carta sua destinação, estando esconjurada toda eminência do “maître à penser” na obtenção do efeito escolhido. Pois o que se revela como verdade precária da ordem fálica, ilustrada na paródia do “roubo da mecha”, com a qual ele finaliza seu prefácio-abertura, é o objeto que divide intimamente o sujeito no apagamento justamente de toda referência ao ideal. Sem glamourização do mestre ou exaltação do Joker, o objeto a, que Lacan ainda não havia formalizado por ocasião de seu escrito sobre “A carta roubada”, aparece nesse prefácio-carta como algo que se destina a seu leitor, convocando-o a se haver com a verdade de uma satisfação íntima que dele cobra uma transformação. É nesse sentido que seis escritos conduzem o leitor “a uma consequência em que precisa colocar algo de si”.
E de fato é impossível, eu dizia em outro momento, ler diletantemente os Escritos, na farsa do erudito movido pelo ideal que dele se serve para aumentar seu cabedal de cultura. Em meu caso, para acessá-los, foi-me necessário conservar, por longo tempo na estante, o objeto-livro inacessível, fascinante e estranho, até que suas páginas se abrissem vagarosamente, no ritmo de minha própria modificação íntima.
ANTÔNIO TEIXEIRA
Membro da Escola Brasileira de Psicanálise (AMP) amrteixeira@uol.com.br